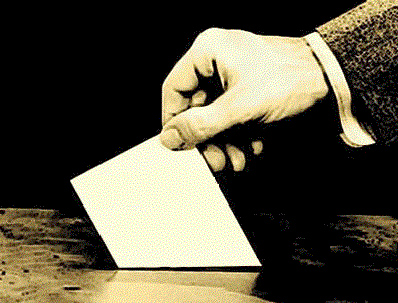Texto: CARVALHO. José Murilo de. “Introdução: Mapa da viagem.” ; “Conclusão: A cidadania na encruzilhada” Em Cidadania no Brasil O longo Caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. pp. 7-13; 219-229
Carvalho traz uma reflexão extremamente
pertinente a respeito dos caminhos percorridos pela democracia brasileira rumo
à conquista da cidadania. O autor
explica que o fim da ditadura militar, em 1985, criou grandes expectativas em
relação aos resultados que seriam gerados pela redemocratização. No entanto,
essas expectativas não foram completamente satisfeitas. Segundo Carvalho,
conquistou-se a garantia da liberdade
de pensamento e de manifestação e a garantia da participação pelo voto, mas ainda resta um longo caminho rumo à
conquista de segurança, emprego, desenvolvimento e justiça
social. Como consequência, tem-se o desgaste das instituições democráticas
já implementadas.
Para Carvalho, o que está no cerne
desse descompasso é o “problema da
cidadania”. O autor expliqua que “o exercício de certos direitos, como a
liberdade de pensamento e o voto, não gera automaticamente o gozo de outros,
como a segurança e o emprego” (CARVALHO,
2009, p. 8). Apesar de uma cidadania plena, que alcance todas essas garantias,
ser um ideal talvez inatingível, torna-se necessária enquanto norte e
parâmetro. Essa cidadania plena abarcaria direitos
civis, políticos e sociais. A garantia dos direitos civis (fundamentais) dependeria
de uma “justiça independente, eficiente, barata e acessível a todos” (CARVALHO,
2009, p. 9). Os direitos políticos
dizem respeito à participação da sociedade em seu próprio governo. Por último,
os direitos sociais vinculam-se à
ideia de distribuição de riquezas e justiça social.
O autor, fazendo referência a T. A.
Marshall, explica que a conquista desses direitos seguiu uma certa sequência lógica na Inglaterra:
primeiramente, surgiram lá os direitos civis, depois os políticos e por fim,
houve a conquista dos direitos sociais, no século XX. A educação popular, apesar de reconhecida como um direito social,
foge a essa sequência, pois está na base da conquista de todos os outros
direitos, por permitir que os indivíduos se reconhecessem enquanto sujeitos daqueles
direitos e lutassem por eles. Carvalho assume que não há um único caminho para
a construção da cidadania plena, mas afirma que caminhos diferentes geram cidadanias diferentes. Segundo o autor,
o Brasil se diferencia da Inglaterra, nessa questão, por duas razões: a ênfase
nos direitos sociais e a inversão completa na ordem de surgimento/implementação
dos direitos.
Em seguida, Carvalho explicita um
outro aspecto histórico da cidadania: seu desenvolvimento vinculado ao
surgimento do Estado-nação. Para o
autor, “a construção da cidadania tem a ver com a relação das pessoas com o
Estado e com a nação. [Elas] se tornavam cidadãs à medida que passavam a se
sentir parte de uma nação e de um Estado” (CARVALHO, 2009, p. 12). O autor
aborda a crise do Estado-nação, inserida no contexto da internacionalização do
capitalismo, dos avanços tecnológicos e da criação de blocos econômicos e
políticos, que acabaram por reduzir o poder dos Estados.
No capítulo de conclusão, é retomado
o problema da cidadania no Brasil. De forma mais clara, Carvalho se posiciona a
respeito do caráter prejudicial daquela inversão
cronológica dos direitos que aqui se deu. A implementação dos direitos
sociais em um momento de “supressão dos direitos políticos e redução dos
direitos civis por um ditador que se tornou popular” (CARVALHO, 2009, p. 219)
criou aqui uma cultura de valorização do Poder Executivo, uma “estadania”, como o autor a denomina.
Como consequência, a sociedade não valoriza a representação e vê escapar de
suas mãos importantes direitos civis. Além disso, há prejuízo em sua capacidade
de organização e os representantes do Poder Legislativo são desprezados, ao
mesmo tempo em que são vistos como fonte de favores pessoais.
Carvalho acredita que, apesar da
gravidade da situação, há esperança para o Brasil, que ainda não sofre de
mazelas mais graves, como a redução extrema do papel do Estado e o apagamento
da identidade nacional, que estão afetando países da União Europeia. Para o
autor, a esperança aqui reside em duas experiências que, para ele, sugerem
otimismo: “o surgimento das organizações
não-governamentais que, sem serem parte do governo, desenvolvem atividades
de interesse público” (CARVALHO, 2009, p. 227) e experiências de prefeituras
que têm procurado envolver a população
na “formulação e execução de políticas públicas, sobretudo no que tange ao
orçamento e às obras públicas” (CARVALHO, 2009, p. 228).
Por fim, o autor alerta para o risco
da cultura do consumo, que ameaça o
avanço democrático ao criar na sociedade uma valorização maior do direito ao
consumo, do que dos direitos políticos. Segundo Carvalho, essa cultura
dificulta a busca pela solução do problema da cidadania, impedindo que o
sistema democrático resolva o grande problema da desigualdade que para o autor
é a nova escravidão: “a desigualdade
é a escravidão de hoje, o novo câncer que impede a constituição de uma
sociedade democrática” (CARVALHO, 2009, p. 229).